ENTREVISTA
Jessica Rylan
por Nina Power
ilustração Paulo Mendel
tradução Vivian Caccuri 
“Olhe para aquele mundo dos autômatos, aquele mundo robô que invoca o nome e a misericórdia de Deus para que funcione e invoca a existência dos vivos para imitar essa existência mais perfeitamente que a natureza.”
Luce Irigaray, ‘The “Mechanics” of Fluids’, This Sex Which Is Not One
“O maquinário não perde seu valor de uso quando deixa de ser capital…ele não segue de forma alguma a subsunção na qual a relação social do capital é a mais apropriada e definitiva relação social de produção para a aplicação do maquinário.”
Marx, Grundrisse
“Os futuros mestres da tecnologia terão de ser leves e inteligentes. A máquina domina facilmente os amargos e os estúpidos.”
Marshall McLuhan
Existe uma cena no filme de Dziga Vertov “O Homem com uma Câmera” de 1929 que combina trechos de mulheres fazendo uma variedade de coisas: costurando, cortando filme (com Elizaveta Svilova, esposa de Vertov e a real editora do filme), contando em um ábaco, montando caixas alegremente, plugando conexões em um painel de telefone, empacotando cigarros, datilografando, tocando piano, atendendo ao telefone, transmitindo código morse, tocando um sino, passando batom. O trecho picotado acelera tanto que chega ao ponto de se tornar impossível distinguir quais das atividades são feitas por prazer, e quais são por trabalho. Esta é uma visão, muito anterior aos sistemas operacionais, celulares, call-centers e a invenção das agências de trabalho temporário, da compatibilidade otimista – talvez uma identificação quase direta – da mulher com as manifestações ilimitadas da tecnologia e do aparato… Em fevereiro de 1966, um grupo de mulheres belgas empregadas em fábricas de trabalho braçal demandam salários iguais para trabalhos iguais. Chamando a si mesmas de “mulheres-máquina”, elas entram em greve, rompendo o trabalho por doze semanas, se comportando da mesma maneira, elas afirmavam “daquele que leva adiante a guerra”…

Mulheres sempre foram desejadas pela máquina. A máquina precisa da mulher por sua destreza, suas mãos menores, sua capacidade de trabalhar rápido e, pelo menos no início, demandar menos por seu trabalho. Raramente, é claro, mulheres estiveram no ramo da construção (apesar de que a Ponte de Waterloo, a ponte mais longa de Londres, foi reconstruída por mulheres durante a Segunda Guerra, e de maneira magnificente diminui a ideia de que o trabalho feminino é de ‘pequeno-porte’). Para as mulheres, caracteristicamente, a máquina sonha através delas, como na observação famosa de Sarte, imprimindo somente um nível exato de distração para que sua performance se maximize – sendo os sonhos eróticos um curioso subproduto. A proliferação das máquinas de escrever e telefones nas décadas de 1870 e 1880, e a mecanização concomitante de informação, permitiu à mulher competir por empregos que elas facilmente poderiam fazer melhor do que os homens. Em outras palavras, ‘um grande número de homens bem assalariados que somavam colunas de quatro dígitos de cabeça foram substituídos por trabalhadores mal-assalariados, muitos deles mulheres, com máquinas’ (Lisa Fine, The Souls of the Skyscraper).
O capital foi e é cada vez mais efeminizado através de suas máquinas; gino-capitalismo de arranha-céu que literalmente fabrica nada, melhor, mais rápido, enquanto os circuitos elétricos balbuciam sem parar entre si. Um milhão de trabalhadoras de registro de dados suspiram enquanto as pontas de suas unhas digitam incessantemente; call centers pronunciando o tom treinado da perfeição soprana; gravações ginóides em estações instruindo passageiros estressados onde estar e quando estar; e no outro lado da divisória, costurando, pregando, o compartilhamento do espaço de trabalho foi facilitado pela capacidade das mulheres em quase desaparecer, apesar de sua tendência em adornar e enfeitar. Longe de ter uma aversão profunda ao artficial, ao fabricado, ao processado, as mulheres sempre mostraram sua rápida capacidade de se adaptar à máquina e automatizá-la, mesmo que a máquina, em troca, use-as e delas abuse.

De certo modo, nós sempre soubemos disso: o lado mais maquínico do dado – a comunicação – esteve sempre aos cuidados da mulher, para melhor ou pior ( A Antropologia de Kant bane ‘as meninas’ para outra sala para o bate-papo fútil, enquanto os homens discutem as questões importantes do dia). Quando a estrela de cinema Hedy Lamarr co-inventou um sistema de comunicação secreta para ajudar os aliados a derrotar os alemães na Segunda Guerra, a MGM manteve oculto esse aspecto de sua vida, como se fosse incompatível com sua imagem de “estrela” (mesmo que ela tenha feito o melhor para esvaziar essa ilusão, no início da idolatria do cinema – ‘qualquer garota pode ser glamurosa. Tudo que ela tem de fazer é ficar parada e parecer estúpida’). Do mangle [máquina de lavar e prensa primitiva] às máquinas de lavar, do ditado à criptografia, da espionagem às quebras de código dos tempos da guerra, a manipulação e mecanização trazidas pela interação entre máquina, informação e transmissão, necessitaram das mulheres muito mais frequentemente do que dos homens. Como Gary Sauer-Thompson questiona em uma discussão sobre o Portrait d’une jeune fille americaine dans l’etat de nudite de Picabia: ‘Se a mulher tornou-se máquina – ao olhar masculino – então o que aconteceu ao homem?’
lado mais maquínico do dado – a comunicação – esteve sempre aos cuidados da mulher, para melhor ou pior ( A Antropologia de Kant bane ‘as meninas’ para outra sala para o bate-papo fútil, enquanto os homens discutem as questões importantes do dia). Quando a estrela de cinema Hedy Lamarr co-inventou um sistema de comunicação secreta para ajudar os aliados a derrotar os alemães na Segunda Guerra, a MGM manteve oculto esse aspecto de sua vida, como se fosse incompatível com sua imagem de “estrela” (mesmo que ela tenha feito o melhor para esvaziar essa ilusão, no início da idolatria do cinema – ‘qualquer garota pode ser glamurosa. Tudo que ela tem de fazer é ficar parada e parecer estúpida’). Do mangle [máquina de lavar e prensa primitiva] às máquinas de lavar, do ditado à criptografia, da espionagem às quebras de código dos tempos da guerra, a manipulação e mecanização trazidas pela interação entre máquina, informação e transmissão, necessitaram das mulheres muito mais frequentemente do que dos homens. Como Gary Sauer-Thompson questiona em uma discussão sobre o Portrait d’une jeune fille americaine dans l’etat de nudite de Picabia: ‘Se a mulher tornou-se máquina – ao olhar masculino – então o que aconteceu ao homem?’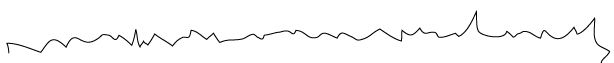
O que acontece agora, no entanto, se formos além disso? Quando a comunicação se torna algo não para se entender e descobrir mas a produção de ruído puro? Quando a máquina, em vez de sonhar através das mulheres, é criada, mantida e explorada por elas?


Jessica Rylan é o futuro do noise, no sentido em que o homem é o passado das máquinas. Alta, magra, corretamente vestida, usando óculos…se passasse em um escritório cheio de escrivões, o coração de Kafka bateria forte. Enquanto as sirenes do desconforto continuam a seduzir o imaginário do noise masculino, Sra Rylan e seus sintetizadores feitos em casa oferecem uma alternativa deliciosa: e se, em vez da entrega à dor hidráulica do metal-tech, nós forçássemos a máquina a falar… eloquentemente. Mas não sejamos ingênuos: não há nada agradável no ruído feito por ela – nenhuma concessão ao fofo, ao lo-fi, ao macio e ao bonito.
Como é que Rylan descreve o que faz? Como é que se encaixa na “cena” do noise? Ela escreveu em seu site sobre a ideia de um “ruído pessoal”, então pedi para que ela falasse mais sobre isso: ‘Tanta gente fazendo um noise pesado, tentando chegar à imagem do Merzbow. Eles me parecem bem impessoais a maior parte do tempo…Algumas pessoas que fazem noise tocam bem pesado. Quando você os vê tocando, eles estão rangendo os dentes e fazendo todo esse barulho e é como se nem aproveitassem sua própria música. O que é que você está fazendo? O problema é que quando se faz música de vanguarda e não se pensa em uma dimensão emocional, ela se torna totalmente abstrata. Fazê-la de forma altíssima e dura é que não vai transformá-la em uma música que diz alguma coisa.
Dizer alguma coisa. Existe algo perfeitamente equilibrado na fusão que Rylan faz de forma e conteúdo. Ela confessa sua admiração pelo orgânico à sua volta: “Eu sou muito interessada em plantas. Esse sintetizador que eu tenho tocado, aquele sintetizador pessoal não é bem como uma planta mas tenho um outro que construí com o qual quero fazer uma turnê, o sintetizador natural, que é mais como uma planta; sons mais ondulados, açoitados, e produz algumas estruturas de tempo que você pode encontrar no mundo, borbulho d’água, coisas assim’. Replicando o orgânico pelo inorgânico, ela corrige a ideia hippie de que a melhor maneira de unir-se à natureza é estar o mais próximo possível dela (aquele horror das barbas, odores corporais, maconha, deixar tudo ‘solto’, a deselegância do ‘natural’, do confortável). Ao contrário, a única maneira de abordar a artificialidade do natural é destrinchar e expor sua simulação, algo que Rylan faz plugando e desplugando sua voz e seu corpo nos circuitos de um erotismo onírico que se tece em meio a uma série de incongruências desconcertantes: ‘Apesar da característica do ruído em lembrar-nos da brutalidade da vida real, a arte do ruído não deve limitar-se à sua reprodução mimética’ (Luigi Russolo).

Não existe interesse pela natureza na cena noise, ela diz. ‘Nesse mundo, nós estamos todos dentro de algum lugar, nós ficamos na internet, assistimos TV, lemos livros, nos drogamos…. É tudo muito interno, não passamos mais nenhum tempo no mundo. Quer dizer, fiz isso por muitos anos, mas existem tantas coisas legais no mundo para as quais não dei atenção suficiente. Foi muito claro, hoje fomos ao museu que tinha essa pintura do Van Gogh, e observando, ela toda vibrava. E eu perdi o fôlego, parecia que a pintura era animada. Estava se movendo e se ondulando como a grama faria ao vento. Esse tipo de coisa para mim é muito interessante, como quando sons são animados dessa mesma forma, bem detalhada. Eu ainda estou trabalhando nisso. É algo para se escutar em casa. Mas ao vivo será diferente. Eu quero levar essa ideia a um show.
Ah, o show. Ao vivo, Rylan apresenta uma combinação de exposição pessoal desconfortável (na forma de canções a capella, tocadas honesta e diretamente à plateia) e comunhão maquínica com sintetizadores analógicos construídos por ela, que criam microfonias que vão ao infinito, que se fundem com os vocais, etéreos, profanos, vocais que nos perseguem como contos de fadas deformados, contados por uma tia sádica. Eu tenho que admitir que a primeira vez que vi o trabalho a capella eu fiquei com um pé atrás, um pouco chocada. Isso é…noise? É só uma menina lendo poesia! Mas revendo agora, se não houvesse o efeito desconcertante que ele produz, faltaria ao show uma certa dimensão, uma certa completude assustadora. Ela diz que a plateia britânica reage de forma muito diferente a essa parte do show – na apresentação da noite passada, quando ela disse que faria algo “mais quieto”, alguém no chão gritou por ‘mais ruído, mais dor!’.
Existe aqui algo profundamente incomum na maneira em que o analógico é processado pelos sintetizadores. Frequentemente elogiado por seu calor, sua autenticidade, sua riqueza, Rylan transforma o fetichismo do vintage no anti-calor, no anti-real, numa série de máquinas customizadas que embaralham e desconectam o tempo dele mesmo no presente. Utiliza o analógico para mimetizar os efeitos do digital: ‘Acho que pensam em um drone envolvente quando se diz “analógico”. O que é legal para mim é que o circuito analógico faz tudo em tempo real. A mesma coisa acontece quando um galho de uma árvore está tremendo e quando um circuito elétrico está vibrando; essa vibração será transmitida ao performer, o perfomer vai também vibrar, e ao mesmo tempo o circuito também vibra em seu próprio mundo elétrico e para mim isso é muito legal. Se você usa um computador e coisas digitais é como cortar e computar, eu sinto que computadores operam em um tempo ao qual não temos acesso. Porque o instante para o computador é algo em torno de quatro bilhões de vezes por segundo. Um décimo-milionésimo de segundo. O que isso significa para nós? Quero dizer, nós somos tão lentos em todas as nossas maneiras.’ Rylan comentou antes em seu desejo em não utilizar nenhum efeito que bagunça o tempo (reverb, delay), mas em vez disso, as máquinas a bagunçam e bagunçam elas mesmas, de modo que não se poderá mais dizer de onde o som está vindo. De modo que isso não importa mais. O que você vê e escuta é uma série de interruptores habilmente manipulados, cabos e soquetes juntos à sua criadora, que circula nesse pântano mecânico e emite ela própria sons que irão responder dentro e fora da máquina. A relação com a plateia é deliberadamente ambígua e muito estruturada – em vez da agressão completa e massificante (apesar de irônica) de grande parte da eletrônica.
Ela confessa uma paixão passada pelo trabalho de Paul Virilio: ‘Eu estava lendo todos os livros dele e naquele tempo eu estava tentando fazer o máximo e o mais rápido que eu conseguia, eu queria mudar tudo o mais rápido que eu pudesse. Mas Virilio nem sequer tem uma secretária eletrônica ou um computador. Mesmo assim, tem essa entrevista em que ele diz o quando ele ama a tecnologia, e eu consigo lidar realmente com isso. Eu gosto disso nele’. Os show dela costumavam ser ainda mais curtos, sete minutos mais ou menos, incorporando uma anti-benevolência. ‘Eu fazia tudo ao mesmo tempo’, ela diz. De diversas maneiras, essa sempre foi a tentação do noise, abraçar a velocidade e a brutalidade do carro, da máquina, o ‘amor pelo perigo, o hábito da energia e do destemor’ do Manifesto Futurista de Marinetti de 1909, em cumprir a demanda de Russolo em combinar ‘infinitas variedades de ruídos’ usando milhares de máquinas diferentes (A Arte do Ruído, 1913). Eram ou não os futuristas aberta ou implicitamente falocráticos (particularmente comparado à proeminência das mulheres no movimento então contemporâneo do Suprematismo Soviético) é algo talvez secundário na questão da necessidade em entender o noise como uma tentativa de ‘chegar à altura’ da máquina, ou às construções sônicas mais extremas da natureza: ‘o bramido do trovão, o assovio do vento, o rugido de uma cachoeria, o gorgolejar de um riacho, o farfalhar das folhas, o trotar de um cavalo enquanto corre à distância, as sacudidas de um carro balançando no pavimento, e dos generosos, solenes, respiros brancos de uma cidade noturna, de todos os ruídos feitos pelos animais selvagens e domésticos, e todos aqueles que podem ser feitos pela boca do homem sem recorrer à fala ou ao canto’ (Russolo 1913).

A própria Rylan teve uma transição do tipo futurista do classicismo para o noise (Russolo de novo: ‘Nós futuristas amamos profundamente as harmonias dos grandes mestres. Por muitos anos Beethoven e Wagner balançaram nossos nervos e corações. Agora estamos saciados e nós tiramos mais proveito da combinação dos ruídos dos vagões, motores de combustão, carroças e nos berros da multidão do que ensaiando, por exemplo, a “Eroica” ou a “Pastoral”). Sua formação em música foi a “adequada”: ‘Eu fiz parte de um coral clássico de crianças, interpretando Mendelssohn, Bach em todas essas igrejas. Era maravilhoso. Mas aí eu tive que destruir minha voz fumando cigarro e gritando’. Um pouco depois, e não muito surpreendentemente, ela confessa sua admiração por Jennifer Herrema (Royal Trux/RTX); ‘ela é como um albino, ou algo assim, vestindo casaco de peles no meio do verão. Eu acho ela tão incrível. Tão trash, tão cool’. Eu a digo que o show me lembra a Diamanda Galás, mesmo que não exista nenhuma similaridade óbvia em termos de voz ou timbre. Ela parece contente: ‘Nunca fizeram uma comparação dessas, mas eu gosto muito dela!’ Certamente existem traços de um extremismo rock’n’roll violento nos shows de Rylan que parecem ter se acalmado um pouco nos últimos anos.
Aquela coisa de cair no chão. Me conte. ‘No vídeo (de 2002), eu estava na faculdade e despenquei na cabeça de um dos meus professores, que havia ganho esse prêmio MacArthur ‘Genius’, de 500 mil dólares. Ele é um músico gênio da improvisação de jazz e eu meio que mergulhei de cabeça nele. Mas ele foi legal, ele só me empurrou para longe. Aquele foi o show mais estranho. Mas eu me sinto bem quando penso nele’. Pessoalmente, não consigo pensar em uma maneira melhor de passar de ano. Mas as coisas se acalmaram para a Sra. Rylan de agora. Um pouco.
‘Esse ano eu comecei a fechar meus olhos bastante, não sei por quê. Eu comecer a me voltar mais para dentro. Mas é preciso ter cuidado. Tocar dando as costas para a plateia pode ser uma posição de vulnerabilidade, mas também uma posição que significa “foda-se você, eu não me importo, não quero olhar para sua cara”. Eu comecei a tentar e pensar mais sobre estar no palco e como isso aparenta. Toda aquela dança espontânea, sem jeito…quando eu estava tocando para os meus amigos eles sabiam de onde eu vinha, mas quando a plateia começou a ser de pessoas que eu não conhecia, elas teriam reações estranhas. A pior vez foi na minha casa, no meu loft… nós estávamos fazendo essa festa enorme, tinha umas duzentas pessoas lá, e então eu estava tocando e umas pessoas entraram, mas não muitas. Eu estava dançando toda louca, foi a vez que eu mais me diverti em um show e quando terminei, estava muito feliz. E aí ninguém aplaudiu e esse cara que estava sentado no chão se levantou e disse “Obrigado. Isso… Foi… Bem… Perturbador.” E aí todo mundo foi embora de uma vez só. E depois descobri que só dez pessoas entraram no espaço porque as pessoas ficaram presas no corredor, com medo, e não conseguiam entrar ou algo assim. E depois disso eu fiquei tipo “o que que eu estou fazendo?” Isso não é o que eu quero comunicar de jeito nenhum!”
Então como evitar um choque com a plateia que você não conhece bem? ‘Minha relação coma plateia tem mudado. Por um bom tempo, a maioria dos show que eu fazia era bem pequenos, apenas trinta pessoas ou perto disso. Tocamos normalmente no chão, com todo mundo à minha volta, é mais íntimo. Eu gosto bastante assim, mas comecei a pensar nisso…tocar no chão se tornou uma coisa meio do ego…quando tem mais pessoas na plateia e você toca no chão, eles não te verão…Eu não quero tocar alto como todo mundo, mas acho que eles aumentaram o volume ontem. Trabalhar com microfonias é arriscado porque às vezes elas podem ficar altas demais e todas confusas. Eu tenho ido mais para o palco e menos para o chão. Eu toquei no chão por muito tempo. É como aquela ideia punk rock de “não querer a separação entre plateia e os músicos” e isso é incrível, mas é tipo, eles pagam para te ver tocar! Você tem que fazer um bom show, as pessoas querem assistir. E é especialmente ruim para as meninas baixinhas.’
Ah, Jessica! Você vai para o palco para que as meninas como eu te enxerguem. É impossível não se apaixonar por isso, mas de diversos jeitos isso exemplifica o pensamento cuidadoso de todos os aspectos de seu trabalho: a música, o show, a performance, o equipamento. Sem enrolação, picaretagem de complexo de gênio incompreendido aqui – vai pra casa menino amador!

Ela fala de seu desejo por ter silêncio entre os shows de bandas, mais do que música pop altíssima (o que de fato aconteceu logo antes de Sutcliffe Jugend, com uma música do Strokes). Purificação? Timing? Acho que é mais uma questão de estrutura, de posicionar uma performance em relação à outra, criando uma produção adequada. Isso corresponde à atitude mais recente em torno da estrutura de seu trabalho:
‘Eu costumava fazer coisas mais improvisadas que eram mais como uma zona e o que poderia acontecer, acontecia. Mas aí comecei a escrever músicas e em um certo momento eu pensei, como é que eu escrevo músicas com ruído? Então eu tentei fazer isso, e foi complicado. Muitas das bandas de noise pesado não tem canções propriamente ditas, é tudo improvisado, com eletrônica, eles têm letras e os sons que eles irão utilizar em algumas partes, mas é mais como uma estrutura aberta. Isso para mim é mais atraente, porque torna-se uma canção reconhecível, mas você também pode improvisar. Eu gosto da ideia de ser muito focada. Eu quero extrair o bastante de uma música para poder entrar nela, mas também imprevisibilidade o bastante para estabelecer o foco.
Certamente, coisas imprevisíveis parecem seguir Rylan – ‘A primeira música que eu toquei na noite passada, quando fiz a turnê nos Estados Unidos em fevereiro eu a toquei catorze vezes seguidas e funcionou muito bem, mas agora não parece funcionar mais. O que é muito estranho porque era um feitiço de amor. Se chama “lançando um feitiço”, e eu estava tentando fazer com que alguém se apaixonasse por mim. Eu pensei que se eu continuasse fazendo, uma hora iria funcionar. Mas não funcionou com a pessoa com quem eu queria que funcionasse e eu fico feliz por isso, na verdade… eu percebi que seria bem ruim se essa pessoa se apaixonasse por mim porque poderia significar que havia funcionado com outras pessoas que eu não queria. Agora meu coração não está gostando tanto daquela música, e é muito estranho, as últimas vezes que a toquei nos Estados Unidos foi um desastre total. Minha mente e o sintetizador não se dão bem nessa. Às vezes eu sinto uma conexão psíquica com as máquinas’.
“Você insiste em que há coisas que a máquina não pode fazer. Me diga precisamente o que a máquina não pode fazer, que poderei sempre construir uma máquina que o fará”
– John von Neumann
Para onde agora? Depois de um verão com uma longa turnê, Rylan poderia provavelmente reservar um tempo para refletir. ‘Quem sabe como futuro será. Para ser sincera, eu quero sair da cena do noise, apesar de gostar dela. Eu gosto de ir aos shows de noise, eu gosto do noise pesado, mas ele é muito auto-limitante porque são somente algumas pessoas que querem escutá-lo o tempo todo, especialmente naqueles volumes altíssimos. Existem algumas coisas no que eu faço que eu gostaria de ter mais controle. Uma música que toquei em Leeds foi incrível, era como um sonho se tornando realidade, mas aí nas próximas duas vezes foi só ok, não muito no nível que eu queria, então fico tentando achar uma maneira de recriar a experiência. Mas sem me entendiar. Pessoalmente eu nunca tentei pensar sobre isso como na música pop, ou tentar abordar o problema desse jeito.’
Pop-noise! Se houvesse alguém capaz de liderar um movimento assim, ela estaria sentada à minha frente tomando vinho branco no Soho enquanto a quinquilharia range lá fora. Mas me diga, quem você acha que faria isso?
‘Eu gosto muito de Kites e Pruriest. Com Kites eu tenho uma troca real. Nós ambos construimos nossas coisas, coisas analógicas. Eu gosto muito do trabalho dele. Mas agora, é horrível dizer, Joanna Newsom. Todo mundo odeia a Joanna Newsom, mas não o folk, a harpa, a voz estranha. Eu gosto bastante do new folk. Nos Estados Unidos, existe definitivamente uma conexão entre a cena noise e isso, ou algumas partes da cena noise e esse tipo de folk.’
Folk-noise! Nós conversamos um pouco sobre o neo-folk e na maneira, ahn….intrigante com o qual ele apareceu e se transformou na Europa. Ele aparentemente não compartilha das mesmas harmonias ideológicas nos EUA; ‘Nos EUA é bem hippie, o que eu não gosto muito. Mas eu gosto de folk tradicional. Porque eu sinto que o noise é uma forma de música folk. É bem de raíz. O que chama atenção nos shows de noise é que grande parte do tempo as pessoas da plateira também tocam. O que de certa forma é maravilhoso, mas também frustrante. Precisamos de mais fãs! Eu gosto das coisas de raíz, mas existem coisas que eu poderia dirigir também a uma plateia maior. Eu espero que aconteça, porque eu acho que as pessoas podem se relacionar com isso. É incrível como o Merzbow é quase como uma marca. Para quase todo hipster de respeito, se tem pelo menos um álbum. Mesmo Wolf Eyes, quem achava que eles seriam tão populares como são agora, há cinco anos atrás?
eu poderia dirigir também a uma plateia maior. Eu espero que aconteça, porque eu acho que as pessoas podem se relacionar com isso. É incrível como o Merzbow é quase como uma marca. Para quase todo hipster de respeito, se tem pelo menos um álbum. Mesmo Wolf Eyes, quem achava que eles seriam tão populares como são agora, há cinco anos atrás?
Nós discutimos a diferença entre EUA, Japão e Reino Unido no que se refere ao noise. Ela fala um pouco sobre o Providence, o festival No Fun e Load Records: ‘A cena da Providence era uma situação bem barulhenta, e simplesmente cresceu. Aconteceu muito em lugares como o Foundry, mas ainda pior. Salas de concreto, super-reverberantes, PAs horríveis, simplesmente péssimo. É divertido mas… então, o que é o Noise? É como a catárse, algo pelo qual você tem que passar, você tem que encarar coisas ruins que você não quer lidar em sua vida e você lida com isso mesmo assim? Eu nem sei mais. Eu estou tão habituada a escutar noise que ele nem parece mais extremo para mim.’ Mas o mesmo não ocorre com a música pop extrema: ‘Honestamente, quando estou em casa eu escuto músicas mais suaves. Claudine Longet, em particular. Ela ficou louca e matou o namorado, ela é incrível. Eu realmente gosto de melodias.’
Então, tendo o projeto folk-pop-noise em mente, o que mais pode mudar a cena? ‘A cena noise tradicionalmente se interessa em edições limitadas, pacotes luxuosos, super fetiche do objeto. O que é interessante. Eu acho que se você está lançando um álbum é importante focar nele, pensar na arte e tudo mais, até mesmo ter uma pequena publicação junto. Mas aí você pensa, quem é que vai escutar a todos esses discos? É o que pega agora nos EUA, todo mundo lança CD-R atrás de CD-R o tempo todo. Você vai a um show e volta para casa com seis ou dez CD-Rs. Quando eu estava em turnê com John Wiese, foi o pior. As pessoas não paravam de dar coisas a ele. Onde quer que ele ia, não importasse o quando ele vendia de produtos, ele saía com três vezes mais coisa. Ele não parava de mandar coisas para casa pelo correio. Mas ele só escuta vinil! Como aquele Merzbox… quem tem tempo de escutar isso? Pessoas só fazem esses lançamentos limitados para trocá-los por outros lançamentos limitados. Eu sinto que existe uma pressão real para lançar um monte de coisas na cena noise. É como o free jazz, música improvisada, lançando coisas o tempo todo. Eu quero fazer menos!’
Fazer menos pode se provar difícil. Rylan recentemente recebeu o prêmio Penny McCall por seu trabaljo: ‘Eu não podia acreditar. Eu saí do meu emprego logo antes disso, e aí três dias depois eu consegui o prêmio. Este ano eu vou continuar em turnê. Eu não tenho tempo de ter um emprego! Mas eu preciso começar a fazer algo, algum trabalho temporário ou eu tenho que começar a vender mais sintetizadores. Eu vendi quatro instrumentos esse ano. Se eu pudesse fazer um por mês eu estaria bem. Ela também acabou de completar uma pós-graduação no MIT: ‘Eu vou ser uma pesquisadora associada no centro para estudos visuais avançados. Eu vou ter alunos da graduação me ajudando. Estou muito animada.’
Nós discutimos os riscos potenciais de buscar uma carreira acadêmica. ‘Quando pessoas têm formação acadêmica, aquilo pode tornar-se mais importante que seu trabalho. Meu sonho é ser reconhecida na academia e fazer mais música pop, mas eu sou muito desconfiada da música acadêmica. Existem armadilhas demais ali para se cair. Ela pode ter princípios indiscutíveis, como a composição serialista, que ninguém gosta. Não há sentido em fazer um álbum que ninguém quer ouvir, e ao mesmo tempo ser aplaudido educadamente, mesmo com total falta de rigor.
‘É bom quando você pode confiar em seu equipamento’, ela diz, antes de pararmos para procurar alguns cigarros. ‘Eu sei como lidar com meu próprio equipamento’. Ela não está errada.
 Entrevista originalmente publicada por k-punk.
Entrevista originalmente publicada por k-punk.
